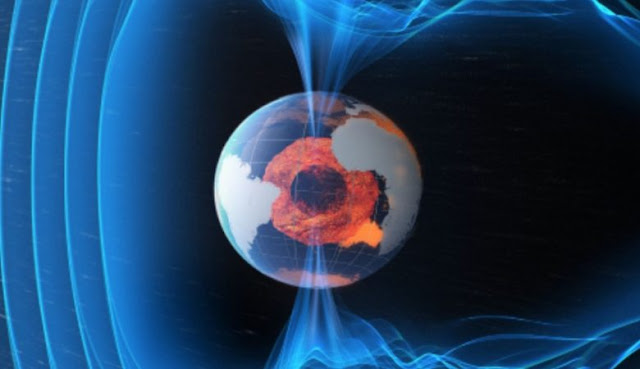Uma criatura marinha extinta, semelhante a uma fita, do tamanho de uma mão humana, foi um dos primeiros animais a desenvolver um precursor de uma espinha dorsal. Recentemente, os cientistas identificaram o cordão nervoso deste animal através de uma reviravolta: viraram os seus fósseis... de pernas para o ar.
O paleontólogo Charles Doolittle Wolcott encontrou pela primeira vez fósseis de Pikaia nos depósitos de xisto de Burgess, na Colúmbia Britânica, datados de há 508 milhões de anos, e descreveu-os num tratado de 1911. O animal media cerca de 16 centímetros de comprimento e tinha um corpo achatado e sinuoso e uma cabeça minúscula, com dois tentáculos na ponta e guelras externas. Inicialmente, pensava-se que estas eram pernas rudimentares, pelo que o animal foi posicionado com estas estruturas viradas para baixo.
Em 2012, após décadas de estudo dos fósseis de Pikaia, os investigadores descreveram as suas estruturas internas fossilizadas com grande pormenor. Eles identificaram um longo fio perto da barriga como um vaso sanguíneo e nomearam uma estrutura 3D em forma de salsicha que corria abaixo das costas do animal como um órgão dorsal, possivelmente usado para suporte interno, embora tal órgão fosse anatomicamente diferente de qualquer coisa vista em fósseis ou em animais vivos.
No entanto, uma análise recente de fósseis de Pikaia por outra equipa de cientistas, publicada a 11 de junho na revista Current Biology, veio alterar esta visão e todos os outros estudos anteriores sobre o Pikaia.
De acordo com os investigadores, as interpretações anatómicas anteriores posicionavam o animal do lado errado. O chamado órgão dorsal estava de facto localizado na barriga e era o intestino do Pikaia. O suposto vaso sanguíneo era um cordão nervoso dorsal, uma caraterística associada ao grupo de animais conhecido como cordados, no filo Chordata.
As fotografias anotadas mostram a organização recentemente revista de Pikaia gracilens. As abreviaturas na caixa C indicam características-chave do fóssil visto na caixa B: tentáculos na cabeça do Pikaia (Tc); inervação (In); cordão nervoso dorsal (Nc); possíveis gónadas (?Go); e miosepta, ou fáscia conectiva (Ms). O desenho na caixa G identifica características do fóssil na caixa F: apêndices anteriores (Aa); cavidade da faringe (Ph); canal intestinal (Gu); e miómeros, ou segmentos musculares (My). Os espécimes fósseis pertencem ao Smithsonian National Museum of Natural History, exceto o fóssil da caixa I, que pertence ao Royal Ontario Museum. Giovanni Mussini
Todos os cordados, como os vertebrados, os lancetados semelhantes a enguias e os tunicados, ou esquilos marinhos, têm, a dada altura das suas vidas uma estrutura nervosa flexível, em forma de bastonete, chamada notocorda, no seu dorso. Um cordão nervoso tubular dorsal é também uma caraterística dos cordados.
Inicialmente, pensava-se que o Pikaia era uma minhoca, tendo sido mais tarde classificado como um tipo primitivo de cordado, com base em características como a forma de certos músculos e a posição do seu ânus. Mas os especialistas não tinham a certeza de qual era exatamente o lugar do Pikaia na árvore genealógica dos cordados.
Com a descrição de um cordão nervoso dorsal, o Pikaia pode agora ser considerado parte da linhagem fundadora de todos os cordados, apesar de não ter descendentes directos que estejam vivos hoje, relataram os autores do estudo.
A inversão do Pikaia "esclarece muito as coisas", disse o biólogo evolutivo Dr. Jon Mallatt, professor clínico da Universidade de Idaho. Mallatt, que não esteve envolvido na nova pesquisa, publicou um artigo sobre o Pikaia em 2013, trabalhando a partir da posição corporal estabelecida (e de cabeça para baixo).
Em retrospetiva, a verdade estava "escondida à vista de todos", e a inversão na orientação resolve questões sobre porque o suposto vaso sanguíneo e a estrutura dorsal de Pikaia colidiam com características anatómicas estabelecidas noutros cordados, disse Mallatt.
"O Pikaia tornou-se de repente muito menos estranho", disse.
Nova orientação
A reavaliação da orientação do Pikaia teve origem há anos com um coautor do novo estudo, Jakob Vinther, professor de macroevolução na Universidade de Bristol, no Reino Unido, disse o autor principal do estudo, Giovanni Mussini, investigador e doutorando no departamento de Ciências da Terra da Universidade de Cambridge, no Reino Unido.
Houve uma série de razões para rever as interpretações anteriores dos fósseis, disse Mussini à CNN. Por um lado, havia o enigma do que os cientistas acreditavam ser a posição do órgão dorsal. A sua colocação - perto do que supostamente eram as costas do Pikaia - parecia excluir a possibilidade de o órgão ser um intestino.
No entanto, quando o Pikaia foi virado de cabeça para baixo, a localização e as características do órgão fizeram mais sentido do ponto de vista anatómico. O órgão alargou-se e estendeu-se até à faringe do animal, a região da garganta onde o intestino normalmente se liga à boca. O seu estatuto 3D poderia ser explicado pela presença de tecidos quimicamente reactivos - características de um intestino. Noutros fósseis do xisto de Burgess, a abundância de iões e compostos reactivos que se encontram tipicamente no tecido intestinal faz com que as estruturas digestivas se mineralizem mais rapidamente do que o resto do corpo, retendo assim mais das suas formas originais. As estruturas no interior do órgão de Pikaia eram possivelmente restos de comida engolida, de acordo com o estudo.
Uma imagem de um espécime fóssil de Pikaia no Museu Nacional de História Natural Smithsonian mostra o canal intestinal, blocos de tecido muscular conhecidos como miómeros e o cordão nervoso dorsal. É visível um sedimento de cor clara no interior do intestino (em direção à cabeça, à direita). Giovanni Mussini
Num Pikaia invertido, as brânquias externas, que anteriormente apontavam para baixo, estavam agora inclinadas para cima, tal como as brânquias externas dos modernos saltadores de lama e axolotes.
A inversão do Pikaia também alterou a orientação dos grupos musculares que se agrupam numa formação ondulatória. Estes músculos, chamados miómeros, são uma caraterística fundamental dos vertebrados. Na nova posição do Pikaia, o ponto de flexão mais forte destes músculos encontra-se ao longo do seu dorso, o que também se aplica à disposição dos miómeros noutros animais com coluna vertebral.
"Isso torna o movimento do Pikaia consistente com o que vemos nos cordados modernos", disse Mussini.
Encontrar o nervo
O presumível vaso sanguíneo do Pikaia era também anatomicamente intrigante, pois não tinha as ramificações típicas dos vasos sanguíneos dos vertebrados.
"É uma linha única que atravessa a maior parte do corpo até à cabeça, onde se bifurca em dois filamentos nos tentáculos", disse Mussini.
Um desenho interpretativo da cabeça de Pikaia gracilens de um espécime fóssil do Museu Nacional de História Natural Smithsonian destaca uma parte espessada do cordão nervoso dorsal. A descoberta de outros sistemas nervosos fossilizados do Cambriano ajudou os cientistas a olhar de novo para a forma como o Pikaia estava organizado. Giovanni Mussini
Uma parte importante do reconhecimento da estrutura como um cordão nervoso foram os sistemas nervosos fossilizados noutros animais do Período Cambriano (541 milhões a 485,4 milhões de anos atrás) que foram descobertos na última década, acrescentou Mussini.
"Temos uma melhor compreensão de como os cordões nervosos e outros tecidos se fossilizam porque tivemos a sorte de encontrar alguns sistemas nervosos do Cambriano preservados noutros depósitos", disse ele, "principalmente de fósseis chineses que vieram à luz nos últimos anos".
Muitos destes fósseis eram artrópodes - invertebrados com exosqueletos - com parentes vivos como insectos, aracnídeos e crustáceos; a comparação dos fósseis com artrópodes modernos ajudou os paleontólogos a identificar os tecidos internos preservados. Um exemplo é um espécime fóssil do artrópode cambriano Mollisonia, que mostrou uma organização cerebral comparável à das aranhas, escorpiões e caranguejos-ferradura vivos, disse Mussini.
Embora não existam análogos vivos para o Pikaia, os dados do artrópode fóssil deram aos cientistas um quadro de referência mais detalhado para o cordão nervoso do Pikaia. Tal como outros tecidos nervosos fossilizados, o cordão nervoso do Pikaia era escuro, rico em carbono e relativamente frágil em comparação com outros tecidos fossilizados.
Esse cordão nervoso dorsal solidifica o status do Pikaia como um cordado, colocando-o "praticamente na base do que consideraríamos cordados tradicionais", disse Mallatt.
Muito sobre a anatomia do Pikaia permanece um mistério, mas olhar para ele de um novo ângulo pode oferecer novas perspectivas sobre o seu conjunto de características intrigantes, disse Mussini.
"Muitos destes pormenores só vieram a lume nos últimos 10 ou 12 anos", acrescentou Mussini. "Os autores do artigo de 2012 podem certamente ser perdoados por não terem trazido estes pormenores para a conversa, porque se trata de um trabalho em curso."
Mindy Weisberger escreve sobre ciência e é produtora de média. O seu trabalho foi publicado em Live Science, Scientific American e na revista How It Works.
Imagem de topo: um fóssil de Pikaia gracilens (a cabeça está à direita) do Museu Nacional de História Natural Smithsonian, visto com o lado direito para cima. A criatura marinha extinta foi um dos primeiros animais a ter um precursor de uma espinha dorsal. Imagem Giovanni Mussini.
fonte: CNN Portugal